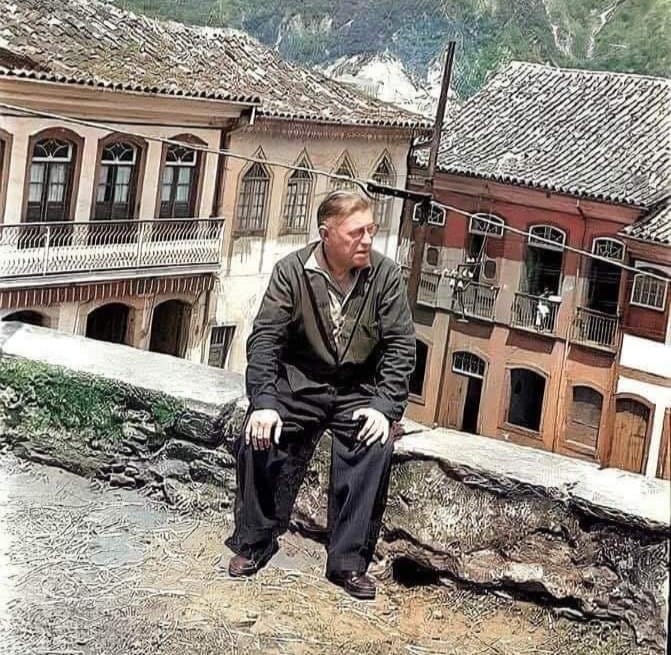“Filósofos são déspotas que não dispõem de nenhum exército, por isso submetem o mundo todo encerrando-o num sistema.”
- Robert Musil
Dias atrás eu disse que a filosofia é — ou pode ser vista como se fosse, ou ao menos me parece — um amor risível. Dias mais atrás eu também falei que um dos modos — o mais comum, o modo hegemônico, digamos assim — de se fazer filosofia profissionalmente é um modo sério, demasiado sério. Vou considerar que as referidas postagens anteriores seriam qualquer coisa como premissas desta, que seria então qualquer coisa como uma conclusão, em um sentido muito especial do termo, já que por meio dela não pretendo concluir, terminar, encerrar ou fechar coisa alguma.
Concluí minha graduação há 15 anos. Peguei, portanto, a época em que a filosofia voltou ao currículo escolar como disciplina obrigatória. De certo modo, portanto, meu horizonte profissional estava assegurado pelo fato de que os jovens seriam obrigados a estudar filosofia nas escolas. Por alguma razão que minha vã filosofia ignora, vi bem pouca gente sugerir que antes de sermos obrigatórios talvez fosse o caso de aprendermos a ser desejáveis. Eu sei, eu sei: sugerir uma barbaridade dessas logo faz com que surjam imagens meio publicitárias da coisa, imagens que trazem a reboque aquele típico discurso contra a “escola tradicional”, essa instituição há tantas décadas declarada caduca, obsoleta, arcaica, que deveria ser substituída por qualquer coisa produzida pelo gênio de um empreendedor qualquer que, cheio de grana e mortalmente entediado, decidiu que sabia tudo sobre o que deve ser a educação. Eu sei que sugerir que a filosofia devia ser mais desejável do que obrigatória é um jeito de falar típico de quem está tentando engambelar alguém e vender caro alguma coisa. Mas infelizmente não tenho como contornar essa insatisfação pessoal: me formei vendo gente achando que a filosofia podia e devia ser obrigatória porque a filosofia é uma coisa séria.
“Eu odeio a seriedade”, disse Jean-Paul Sartre nos seus diários de guerra no dia 11 de março de 1940. De fato, em pelo menos duas de suas mais importantes obras, Sartre lança mão do conceito de “espírito de seriedade” para designar um amplo espectro de coisas que o desagradam. Espírito de seriedade é a atmosfera existencial de quem acha que os valores existem no mundo, como placas de sinalização, sendo incapaz de reconhecer que, nesse universo mortalmente indiferente a nós, os valores tem sua fonte e raiz nos seres humanos. Sério é aquele que acha que sua existência é necessária, que o mundo não seria o mundo se o indivíduo não estivesse lá, de terno, uniforme, batina ou quem sabe jaleco, cumprindo sua nobre função para a qual sua existência é indispensável. Também são sérios os revolucionários que “se conhecem primeiro a partir do mundo que os oprime e querem mudar esse mundo opressor”, dirá Sartre em 1943, n’O ser e o nada. Depois, como se sabe, Sartre levará a revolução a sério. Como lembra George Minois, em sua História do riso e do escárnio, enquanto “os intelectuais do século XX renderam homenagem ao riso, cederam a seu encanto, reconheceram seu poder”, Sartre “reprova nele o fato de reforçar o conformismo burguês”. É verdade que recentemente — vide o esforço de François Noudelmann, em Un tout autre Sartre — começou a aparecer a imagem de um Sartre menos sério do que aquela oferecida pelas biografias já consagradas. De todo modo, o pensamento de Sartre parece emperrar diante de certos limites que talvez sejam disciplinares. Foi só por meio dos romances de Milan Kundera que consegui conceber uma atitude mais de brincadeira, na qual tudo, até mesmo os amores parecem risíveis, mesmo que seja um riso condenado ao esquecimento em uma existência concebida como festa da insignificância.
O romance, todavia, não é sério. O romance, a poesia, as letras não possuem objetividade, não tem referência, não constituem um discurso verificável sobre o mundo, não são ciências. Uma piada comum unia estudantes da federal onde estudei e da católica onde lecionei: filosofia, quando malfeita, é poesia. Qualquer discurso sem lastro empírico, destituído do caráter científico — destituído dos sinais por meio dos quais é reconhecido como científico por quem pratica ciência, tenta praticar ciência ou tenta simular, emular ou mesmo imitar a prática científica — ganha, no dizer pejorativo do filósofo sério, o adjetivo de ser poético, meramente poético. A própria filosofia de Sartre, autor que não gostava muito de poesia mas que escreveu teatro e romance, frequentemente cai na vala comum da poesia. Mesmo Nietzsche, que chamou todos os pensadores metafísicos que o precederam de artistas frustrados, tem sua obra escorrendo para o ralo no qual termina toda a filosofia pouco séria. A história da filosofia séria passa pelo plano cartesiano, percorre a fundamentação kantiana do conhecimento legítimo na primeira — e única verdadeiramente séria — Crítica… e deságua na profissionalização universitária da filosofia no século XX (The rise of scientific philosophy, de Hans Reichenbach, publicado em 1951, foi traduzido, até 1960, para diversas línguas “incluindo alemão, francês, espanhol, sueco, italiano, japonês, polonês, iugoslavo e coreano”, conforme narra Michael Friedman, seu discípulo). A seriedade da filosofia é um elemento daquilo que os historiadores chamam de “história dos vencedores”, mesmo que alguns perdedores gostem dela e tentem dela participar, tentando mostrar que dá pra fazer Nietzsche ou Sartre de modo sério, como se a afinidade eletiva legítima, desejável e vantajosa para a filosofia fosse com a ciência, longe da poesia. A filosofia séria, aliás, também traz no pacote um certo compromisso cívico que, por mais difícil que seja de defender, parece precisar ser sempre defendido. De alguma maneira que não se sabe bem qual é, a filosofia ajudaria a fazer cidadãos melhores e talvez mais capazes de levar a sério as dores do mundo.
Oitenta e três anos e seis meses depois de Sartre, admito e digo que eu também odeio a seriedade. Em um sentido próximo daquele em que Kierkegaard disse que são secretamente desesperadas todas as pessoas, por mais tranquilas que pareçam, acho que somos todos meio ridículos, por mais sérios que tentemos fazer parecer que somos. Tudo se passa como se a seriedade dos que se levam a sério demais, levando a sério tudo o que fazem, com certezas e convicções acerca dos próprios papéis e funções, não fosse senão um certo modo de impostura. Mais ou menos como aquelas pessoas aflitas que vivem postando fotos felizes nas redes sociais para ver se se convencem de que no fundo são felizes por meio do convencimento dos outros (mas com a íntima consciência de que estão, na maior parte do tempo, aflitas), tenho a impressão de que os sérios fazem algo muito parecido. Tudo se passa como se fosse necessário disfarçar para si e para os outros — para si por meio dos outros — o caráter meio bobo, meio risível de ser — e de querer ser — um “profissional do pensamento”. Isso me aparece com singular nitidez quando a gente pensa na filosofia no contexto de sua grande família universitária: enquanto a sociologia produz sociólogos e a psicologia produz psicólogos, a filosofia produz professores de filosofia. Sei que algumas das pessoas que mais estimo no mundinho da filosofia acham que vou longe demais agora, mas não consigo não ver na reivindicação do título de “filósofo” senão uma espécie de atestado de nudez do rei. Não consigo ver o adjetivo “filósofo” funcionando da mesma maneira quando atribuído a Aristóteles ou Spinoza e quando atribuído ao professor Bob McSomething, médico com doutorado em filosofia, especializado em neurobiologia e bioética, visitante de Massachussets na federal de Biriguí. Pessoalmente, me esquivo conscientemente desse adjetivo sempre que sou alvejado por ele só pelo fato de que mexo com filosofia. E a menos que eu termine por acidentalmente produzir uma “obra” em filosofia, farei questão de dizer que não sou filósofo exceto em algum sentido muito, muito, muito especial do termo e que designe precisamente isso: gente que mexe com filosofia, que se ocupa de filosofia, nas universidades, escolas e entornos culturais dessas instituições, digamos assim. Acho que me baixaria a pressão se, em uma mesa de bar qualquer, quando perguntado sobre a própria profissão por um gentil garçom, um amigo se apresentasse dizendo, ao meu lado, “sou filósofo!”.
(Tudo bem, eu também sentiria um assalto de vergonha alheia se o termo reivindicado fosse, por exemplo, o de romancista por parte de alguém que tivesse o hábito de escrever ficção e, em razão disso, achasse que pode atribuir a si próprio um adjetivo que só ganha validade nos circuitos do reconhecimento social…)
Como umas três ou nove pessoas sabem, ando pesquisando a coisa do habitar poético em Heidegger. Antes desse tema se impor como obsessão para mim, já havia tomado de empréstimo uma expressão que a Alexandra usa algumas vezes na tese de doutorado dela, tomada de empréstimo de Karl Mannheim, a saber, a de que jamais se defendem apenas ideias, mas sobretudo mundos em que as ideias estejam em casa. As palavras de Mannheim, em minha livre tradução, são essas:
“O conservador não quer apenas a satisfação dos seus interesses, mas também o seu próprio mundo, um mundo em que os seus interesses estejam em casa. O burguês não quer apenas que as suas reivindicações sejam satisfeitas, mas também um mundo moldado pela sua própria mentalidade. O proletário não se contenta em garantir o seu futuro; ele quer um futuro de acordo com seu espírito.”
Às vezes nossas ideias não estão em casa. Quando isso ocorre, a satisfação dos interesses e das reivindicações é insatisfatória e não há como garantir um futuro e, para falar com Ricoeur, “um mundo outro que corresponda a outras possibilidades de existir”, possibilidades “que sejam nos nossos mais próprios possíveis”. Quando isso ocorre, parece necessário fazer como Ricoeur e recorrer a Koselleck, especialista em reabrir futuros passados, mundos feitos de possibilidades que não se realizaram. Não é outra coisa, penso eu, que Heidegger está fazendo quando começa a deixar para lá a “filosofia” enquanto ideia. Heidegger parece pressentir que aquilo que foi denominado e designado pela palavra “filosofia” simplesmente não dava conta de pensar o que tinha sido por ela esquecido em um horizonte no qual esse esquecimento foi, na realidade, a própria condição de sua realização. Penso nisso quando vejo Heidegger tomando conjuntamente o longo e amplo arco de vinte e cinco séculos de história da filosofia e ousando pensar um outro início. Não um outro início cronológico, por supuesto, mas uma outra atitude por meio da qual é possível lançar um outro olhar sobre tudo o que foi e o que é. Um olhar que, penso eu, visa um mundo que seria o lar de outras ideias e, quiçá, de um outro modo de fazer filosofia, um outro modo de pensar. Diferentemente de Heidegger, apaixonado pela poesia, me gusta a prosa, o prosaico âmbito ordinário no qual se dão as vidas humanas frequentemente tão risíveis quando elaboradas como histórias. Como observa Kundera, nossa sociedade moderna honrou o legado de Galileu e Descartes mas depreciou a herança de Cervantes. Também pudera: a quem interessa se ver e se compreender como alguém imbuído de uma loucura qualquer, enfrentando moinhos de vento? No caso da filosofia séria, a quem interessaria participar de vinte e cinco séculos de uma história que não seria senão enfrentamento de moinhos de vento? Evidentemente, sou capaz de admitir e de reconhecer que não são apenas meus pares e contemporâneos que gostam de se compreender como sérios artífices de uma cidadania ideal, de uma — e essa é provavelmente a moeda mais gasta, a fórmula mais vazia que circula livre e intensamente no mundinho das humanidades — consciência crítica. Platão já era sério pra caramba — e, naturalmente, não gostava dos poetas.
Meus intérpretes preferidos da obra de Heidegger gostam de ver nessa coisa do habitar poético uma espécie de radicalização do método fenomenológico. Se isso tem algum fundo de verdade, no fundo, se trata de que seja possível colocar algumas coisas entre parênteses e, desse modo, como diz Ricoeur, “reabrir o passado, reavivar nele potencialidades irrealizadas, impedidas”, a pensar “contra o adágio que diz que o futuro é aberto e contingente e o passado univocamente fechado e necessário”, de “lutar contra a tendência de só considerar o passado sob o ângulo do acabado, do imutável, do findo”, de “resistir ao encolhimento do espaço de experiência”. Talvez uma alternativa para quem não experimente o mundo em que vive como um lar para as próprias ideias seja a de pensar — e viver — em uma atitude parecida com a do Ulrich de Robert Musil, olhando para o efetivo e atual como algo que “provavelmente também poderia ser de outro modo”, lançando mão de uma “capacidade de pensar tudo aquilo que também poderia ser, e não julgar que aquilo que é seja mais importante do que aquilo que não é”, em uma compreensão da vida como uma “teia mais sutil, feita de nevoeiro, fantasia, devaneio e condicionais”.
Dado que a vocação filosófica é não só atualmente mas também desde sempre associada a uma atitude nefelibata, cada vez mais me parece que a sobrevivência dessa nossa ingrata vocação é muito mais a de assumir essa condição meio risível, de viver nas nuvens, do que a de tentar disfarçar essa tendência por meio da performance de uma seriedade que parece risível na mesma exata medida em que tenta disfarçar o risível da própria condição sob as máscaras da seriedade, da gravidade, da “utilidade” da própria “função”. E é claro que eu também sei que minhas antipáticas ideias podem ser designadas por alguns adjetivos bastante pejorativos. É claro que eu sei que há vinte e cinco séculos — e, mais intensamente, há vinte e cinco décadas — essa minha visão sobre a natureza da relação entre nossos pensamentos e as excelsas instâncias da verdade e da realidade não é nem poderia ser nem culturalmente hegemônica nem institucionalmente oficial. Mas a vida vai passando, a gente vai ganhando uns cabelos brancos e vai se permitindo umas sinceridades que vão ficando urgentes na exata medida em que a gente percebe que pode simplesmente desaparecer sem ter dito o que achava que deveria.
Dias antes de falar que odiava a seriedade, mais precisamente no dia 23 de fevereiro de 1940, Sartre disse algo muito parecido com o que é dito nessa citação de Mannheim que vai logo acima. Ele disse que…
"… Todo desejo particular é uma especificação do desejo do mundo. Ou, se preferirmos, o objeto desejado aparece no limite do mundo desejado e simboliza o mundo desejado. Desejar um objeto é desejar o mundo na pessoa desse objeto."
A filosofia enquanto um amor risível, mais típico dos nefelibatas do que dos déspotas, para mim, simboliza meu mundo desejado, o mundo no qual eu acho que estaria em casa. Mas como eu sugeri dias atrás, esse risível amor também é um interminável anseio por algo que talvez nunca tenha existido, uma insuperável saudade de um lar mais imaginado do que habitado, uma nostalgia sem fim.